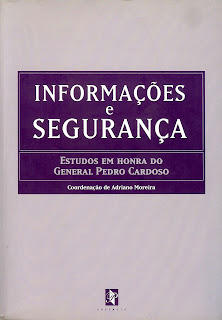MONUMENTO AOS COMBATENTES DA GUERRA DO ULTRAMAR
“Essas poucas páginas brilhantes e consoladoras que há na história de Portugal contemporâneo, escrevêmo-las nós, os soldados, lá pelos sertões de África, com as pontas das baionetas e das lanças a escorrerem em sangue. Alguma coisa sofremos, é certo: corremos perigos, passámos fomes e sedes e a não poucos postraram em terra para sempre as fadigas e as doenças. Tudo suportámos de boa mente porque servíamos el-Rei e a Pátria, e para outra coisa não anda neste mundo quem tem a honra de vestir uma farda. Por isso também nós merecemos o nome de soldados. É esse o nosso maior orgulho.”
Mouzinho de Albuquerque,
(Carta ao Príncipe D. Luís Filipe)
As últimas campanhas militares ultramarinas portuguesas – ultramarinas porque se desenrolaram em terras onde os portugueses se estabeleceram além-mar – tiveram início no Estado Português da Índia, em 1954, quando se reforçou aquele território militarmente, por a ameaça assim o justificar; continuaram em Angola com o deflagrar do terrorismo, em 1961, e na Guiné e Moçambique, respectivamente em 1963 e 1964, com o início da guerrilha. Pelo caminho ficou a mesquinha ocupação da fortaleza de S. João Baptista de Ajudá, pelo Daomé, em 1 de Agosto de 1961 – facto de que já ninguém se deve lembrar – e o reforço de todos os restantes territórios, como precaução, havendo a registar uma séria alteração da ordem pública, em Macau, em 1966, no auge da revolução cultural maoísta.
Directa ou indirectamente ligados a todos estes eventos, foi ainda necessário intervir ou fazer face, aos acontecimentos resultantes da secessão do Catanga, entre 1960 e 1963; à guerra do Biafra, entre 1967 e 1970 e ao bloqueio do canal da Beira, por parte da Inglaterra a partir de Janeiro de 1966, na sequência da independência unilateral da Rodésia. Na Metrópole europeia teve ainda que se fazer frente, a partir dos anos 70, a um conjunto de atentados violentos e propaganda subversiva, por parte de algumas organizações clandestinas de orientação comunista e que visavam protestar e, objectivamente, prejudicar o esforço de guerra em que a nação – e não só o Estado – estava empenhada.
A soberania portuguesa terminou, “de facto”, de forma dramática em Goa, Damão e Diu, em 19 de Dezembro de 1961, após ocupação “manu militari” do nosso território, por parte da União Indiana, resultante de uma vergonhosa invasão militar, sem declaração de guerra, à revelia do Direito Internacional e do normal convívio entre povos do século XX, e sem que a mais pequena réstia de razão o justificasse.
A luta nas restantes frentes desenrolou-se, vitoriosamente, em termos de guerra de guerrilha de baixa intensidade, até que os acontecimentos ocorridos em Lisboa, em 25 de Abril de 1974, quebraram psicologicamente a vontade de continuar a luta.
A extrema ingenuidade (to say the least), com que os autores do golpe de Estado, então ocorrido, actuaram, fez com que rapidamente o poder caísse na rua; lançou o país no caos político, económico, social e financeiro, quebrou a disciplina e a confiança nas FAs e fez desmoronar todo o aparelho político/ militar nas quatro partes do mundo onde flutuava a bandeira das quinas. O resultado foi a outorga do poder às forças marxistas – e só a essas – do poder político em todo o ultramar de uma forma atrabiliária, o que impediu qualquer tipo de autodeterminação minimamente organizada e que respeitasse fosse o que fosse. As independências surgiram assim, de qualquer maneira e em catadupa, por todo o ano de 1975 o que resultou, durante décadas, nas abominações mais indescritíveis. Macau foi excepção a esta debácle, não porque o desvario que corria em Lisboa o quisesse, mas porque a China milenar impôs a sabedoria dos antigos.
Na parte europeia de Portugal, chegou-se nesse ano às portas da guerra civil, evitada “in extremis” por alturas de 25 de Novembro. Timor ficou ainda a pairar como uma chaga viva na consciência nacional, durante os anos que durou a ocupação indonésia, ocupação essa de que nós fomos, senão os únicos, pelo menos os principais responsáveis. O que se passou por causa disso, na sociedade portuguesa assemelhou-se a uma catarse de expiação de culpas, colectiva.
O período histórico em que tudo isto se passou, entre Abril de 74 e Novembro de 75, foi um tempo muito curto, mas olhando para toda a História de Portugal, dificilmente se vislumbra algum outro de tanta ignomínia e que tantos danos causasse.
Assim regressámos às fronteiras medievais europeias sem lustre e sem glória, depois de uma debandada de pé descalço – como lhe chamou o insuspeito António José Saraiva.
A Nação dos portugueses não merecia que as coisas se tivessem passado desta maneira.
Muito menos o cerca de milhão de homens que combateram abnegadamente nos quatro continentes e mares em que o território nacional de então, se espalhava e que carinhosamente foram apelidados de os “melhores de todos nós”.
Não mereciam estes, nem os anteriores que lutaram por ideias e interesses que fazem parte da matriz nacional portuguesa desde a I Dinastia e, objectivamente, combateram durante 600 anos – tantos quanto durou a diáspora portuguesa. Esta é a primeira reflexão que vos proponho: nós não andávamos nisto há meia dúzia de dias, não o fizemos de ânimo leve e tal nunca teve a ver com regimes, pessoas, interesses de grupo ou sistemas políticos. Não foi uma ideia de um qualquer rei louco; de corsários, ou aventureiros; de “lobbies” económicos ou interesses mesquinhos. Foi obra de toda a Nação – da Coroa, dos Nobres, do Clero e do Povo e teve uma ideia transcendente como referência; a globalização espiritual do império de nosso Senhor Jesus Cristo, através da Terceira Pessoa da Trindade, o Espírito Santo.
É tudo isto e a maneira superior dos portugueses em se relacionarem com os outros povos que explica a especificidade da colonização portuguesa e o modo como organizávamos e sentíamos os nossos territórios e as gentes que sempre procurámos integrar na coroa portuguesa e não descriminar.
*****
A segunda reflexão que vos queria propor tem a ver com a escala dos ataques exteriores de que Portugal foi sujeito, que desembocaram nestas campanhas e que, modernamente, foram explicados pela falácia dos “Ventos da História”.
Basicamente desde o início da Nacionalidade até à perda da independência, em 1580, Portugal contou apenas com dois inimigos que se podem classificar de clássicos: a Moirama e Castela; tendo de se fazer ainda frente, a partir do século XV à guerra de corso movida principalmente por franceses e ingleses.
Porém, a partir do domínio filipino Portugal veio a herdar todos os inimigos da coroa espanhola, pelo simples facto de Filipe I como Rei de Espanha não poder estar em guerra com vários países e como Rei de Portugal, poder gozar a paz. E foi assim que passámos a ser atacados por povos do centro e norte da Europa. Os judeus, que tinham sido bem tratados em Portugal até D. Manuel I, passaram a guardar inimizade a Portugal após a sua expulsão, em 1496, e posterior perseguição pela Inquisição. No século XX, a URSS tornou-se nossa inimiga política, por razões ideológicas e nunca perdoou ao estado português o facto de ter ajudado a derrotar as forças republicanas durante a guerra civil espanhola. Isto explica o empenho que colocou no apoio à auto determinação dos povos e o anti colonialismo (leia-se dos povos que estavam debaixo do domínio político das nações da Europa Ocidental e apenas dessas) – e entre estas estavam englobados os territórios portugueses. Conceito este que tinha sido posto em marcha após o fim da II GM e do início da Guerra-fria, de que passou a ser uma forma indirecta de a travar. A este desiderato juntaram-se os EUA, a fim de tentarem subtrair os novos estados ao controlo da União Soviética, ganharem acesso a fontes de matérias-primas, controlo de pontos estratégicos e por preconceito político/social, já que eles próprios tinham sido uma colónia.
Chamaram a isto os “Ventos da História”, que tinham muito mais a ver com a substituição de soberanias do que com a auto – determinação dos povos. E hão-de Vexas fazer o favor de reparar, que os ventos da história são sempre soprados por quem tem o poder na altura, no sentido dos seus interesses e não por causa dos eventuais princípios filantrópicos que proclamam. Portugal tem sido amiúde vítima, destes “ventos”, por uma razão muito simples: as grandes potências do mundo jamais perdoaram a uma pequena potência como Portugal, se tenha alcandorado a tão grande grandeza histórica e territorial e sempre que puderam, aproveitaram-se das circunstâncias para nos depredar. Foi isso mais uma vez que aconteceu no Ultramar a partir de 1954, e já é tempo de nós todos termos noção da realidade dos factos e não dos mitos e falácias que nos quiseram e querem vender.
Portugal tinha, ao tempo em que começaram a ocorrer os eventos que descrevemos, poder efectivo – político, diplomático, económico, financeiro, psicológico e militar; vivia uma paz social e dispunha de uma liderança forte, patriótica e competente, que se dispôs, altaneira, a defender as suas gentes e património e a vender cara a pele. Nenhum bom português pode condenar esta atitude.
E foi assim que cerca de um milhão de homens foi ocupar sucessivamente os seus postos de combate, naquilo que constituiu, sem sombra de dúvidas, a melhor campanha efectuada desde os tempos do “tirribil” Afonso de Albuquerque, chegando-se a combater simultaneamente em três teatros de operações de uma extensão enorme, separados entre eles e a Metrópole – que era a base logística principal – por milhares de quilómetros, sem generais ou almirantes importados – o que já não sucedia, note-se, desde Alcácer Quibir – e fazendo-o vitoriosamente com a excepção já referida do Estado da Índia, devido à esmagadora desproporção de forças em presença e à deserção de alguns ditos aliados. Mesmo assim fizemos frente com sucesso a 10 anos de malfeitorias da União Indiana, não foi coisa de somenos!
Todo este esforço foi feito sem qualquer disrupção política, social ou financeira; mantendo-se o desenvolvimento económico sempre a subir e de forma sustentável, em todos os territórios do Minho a Timor; sem qualquer tipo de ruptura logística, casos de indisciplina notórios e com uma taxa de desertores (incluindo as tropas negras), que não encontra paralelo em nenhuma campanha contemporânea.
Até ao 25 de Abril de 1974, os batalhões embarcaram todos completos e em boa ordem de marcha!.... E lembro que antes de embarcarem permitia-se que os militares fossem a casa despedir-se dos familiares durante 10 dias…
Foi pois todo um povo irmanado de um mesmo ideal e sentir, que aguentou firme e estoicamente, anos e anos de campanhas e sacrifícios. E se eram os combatentes que na linha da frente aguentavam os embates da guerrilha, eram as suas famílias que, na retaguarda, suportaram os sacrifícios e a incerteza que as frentes de combate implicavam. Neste âmbito há que fazer uma menção especial às mulheres portuguesas.
Se é certo que aos expedicionários cabia sofrer as agruras da campanha, que não poucas vezes lhes causavam ferimentos ou a própria morte, foi a mulher portuguesa que desde a expedição a Ceuta, em 1415, aguentou a retaguarda, tratou da casa, criou os filhos e passou toda a sorte de infortúnios para que a gesta se cumprisse. É ela que verdadeiramente cria e justifica a palavra “saudade” e foram a suas lágrimas que salgaram o mar português.
Algumas se destacaram: mulheres como Filipa de Vilhena e Mariana de Lencastre, que armaram elas próprias, os filhos cavaleiros e os incentivaram a defenderem a Pátria; as mulheres de Diu, que atrás das pedras da fortaleza, obraram prodígios, ajudaram a aguentar dois terríveis cercos, tratando dos feridos, transportando armas e munições, municiando espingardas, etc; como as mulheres de S.Aleixo da Restauração, que mesmo correndo o risco de ficarem sepultadas debaixo dos escombros da igreja, motivaram os homens a resistir.
Foram estes e outros exemplos que perduraram nas mulheres do terceiro quartel do século XX e que permitiram que as famílias se mantivessem coesas na defesa dessa família maior que é a Nação dos Portugueses!
Para elas vai a minha homenagem!
*****
Em boa hora, pois, um grupo de cidadãos patriotas pretende erigir um monumento que perpetue a memória dos combatentes, no bonito e importante município de Sintra, 36 anos depois das campanhas terem terminado e os centuriões regressado a casa.
E esta é a última reflexão que vos quero colocar, porquê só 36 anos depois?
A resposta sendo triste e dolorosa é simples de dar. Mas eu tenho de a dar.
A Pátria não se tem mostrado agradecida porque está de mal com ela própria...
As forças políticas que saíram vitoriosas daquilo que era para ser um golpe de estado e virou revolução sem lei nem roque, eivadas de ideias erradas e anti nacionais, fizeram seu, o ideário político dos, até então inimigos, da nação portuguesa – fazendo crer que eram apenas inimigos do estado português – sanearam quem se lhes opunha e intimidaram a restante população. Quem não concordava, não conseguiu, quis ou soube, fazer frente a tudo isto. Depois iniciaram um processo de lavagem ao cérebro onde participaram muitos desertores, repatriados e refugiados políticos, de modo a fazer crer que a acção dos portugueses tinha sido criminosa; que os combatentes andaram a defender o imperialismo, o fascismo, o colonialismo e outros “ismos”, que eles tinham metido na cabeça mas colados com cuspo, arrumando os combatentes na prateleira da ignomínia histórica. E decretaram, liminarmente e sem direito a contraditório, que a guerra que travámos era injusta! O condicionalismo psicológico foi enorme e, de omnipresente nos “media”, no discurso político, na literatura e artes plásticas, passou para os livros da escola.
Um vento mau assolou o país e, porque não dizê-lo, uma onda de cobardia também o varreu.
Por isso, só muito lentamente a população tem estado a acordar das mentiras em que a enlearam e cujos efeitos morais e materiais estão hoje à vista de todos.
Este monumento, que queremos rapidamente ver erigido, é um momento desta reacção. Os combatentes não precisam de subsídios, mas de respeito e que o seu esforço seja lembrado aos vindouros. E é preciso gritar bem alto que os combatentes portugueses de então, o merecem, que fizeram uma guerra justa, pois actuaram em legítima defesa e proporcionadamente e além de justa, limpa, com pouquíssimas quebras na ética militar; foram, generalizadamente, humanos e usufruindo de meios materiais pouco sofisticados. E podem justamente orgulhar-se, de para lá de legitimamente defenderem territórios e gentes herdadas dos seus antepassados e que eram incontestavelmente portugueses – nossos! – ajudaram ao desenvolvimento dos mesmos, o que ultrapassou tudo o que se fez nos quatro séculos anteriores.
Divisava-se, assim, a formação de uma sociedade multi racial e pluricontinental, que vivia em harmonia, única no mundo e que constituía e constitui um dos mais altos ideais da Humanidade. Era um Ideal digno dos nossos maiores de que justamente devemos estar orgulhosos. E o facto de não se ter conseguido fazê-lo perseverar, não invalida o que atrás se disse.
Caros compatriotas, está na hora de afirmar a verdade histórica e as boas intenções e repudiar a mentira e os mentirosos; há que separar águas e voltar à matriz original portuguesa.
Os “ventos da História”não foram erradicados e podem voltar a soprar contra nós, de novo; não sei até, se o deixaram de fazer...Há que estar preparado e nunca, mas nunca, baixar as guardas! Um verdadeiro combatente só dá baixa para a cova! Lembro apenas que, presentemente, nos querem esbulhar do nosso mar, da nossa ZEE.
É mister terminar.
Curvando-me comovido e grato perante a memória dos nossos combatentes, apenas posso solicitar um grande e merecido viva para os soldados, marinheiros e aviadores da nossa terra, e um grande viva a Portugal.